Traduzir: adaptar?
Notas trazidas de Paraty
Dorothée de Bruchard
À memória de Dominique Boxus (1964-2014)

Em 2013 tive a alegria de coordenar, com Dominique Boxus e Émilie Audigier, a OFICINA DE TRADUÇÃO LITERÁRIA que reuniu em Paraty, entre 7 e 13 de julho, doze tradutores franceses e brasileiros — intensa jornada em que nos foi dado dividir desafios e soluções, somar experiências, conhecimentos e, juntos, refletir a tradução a partir de nossa prática. Mais que bem-vinda iniciativa da Fundação Biblioteca Nacional e da Universidade Federal Fluminense, viabilizada pelo empenho dos organizadores Johannes Kretschmer (UFF) e Fábio Lima (FBN), a Oficina constituía uma rara oportunidade de repensar em modo coletivo algumas das tantas questões com que se depara solitariamente todo tradutor em sua lide diária.
¶ Uma delas, levantada pelo trabalho de um colega em torno de um grande clássico da literatura francesa, mobilizou mais especialmente o grupo. Orientado por seu editor a adaptar o texto para jovens leitores, este tradutor declaradamente aparava as dificuldades de estilo, modernizando a linguagem, enxugando trechos mais árduos, “cortando” outros considerados supérfluos. Desencadeou-se um debate que, entre acaloradas discussões e provocações bem-humoradas, se estenderia pelo tempo que durou a Oficina.
¶ Estas notas esparsas, miúdo registro pessoal daquele momento privilegiado, foram originalmente escritas para integrar um projeto que afinal não se realizou. Partilho-as então aqui, com imensa gratidão por meus colegas de aventura: os franceses Paula Salnot, Hubert Tézenas, Philippe Poncet, Émilie Audigier, Dominique Nédellec; os brasileiros Thiago Mattos, Liliane Mendonça, Weslin Jesus de Santos Castro, Jorge Bastos, Fernando Scheibe. E dedico-as, modesto tributo, à memória de Dominique Boxus, companheiro de jornada que nos deixou um ano e meio depois de ter marcado nossa Oficina com sua presença atenta e gentil.


Weslin Castro, Liliane Mendonça, Philippe Poncet, Thiago Mattos.
Paraty. Sol e mar lá fora. Cá dentro, expunham-se ao vivo, ao crivo coletivo, nossas gloriosas ou inglórias tentativas de trazer para uma língua algo concebido em outra. Ao lado de soluções felizes e achados brilhantes, desnudavam-se os deslizes, cochilos, equívocos... E, linha por linha, a persistente tentação de enxugar uma frase intrincada, esclarecer uma ideia obscura, reordenar uma sintaxe caótica, ajeitar uma pontuação errática. Saltava aos olhos, espelhado no trabalho dos colegas, nosso humano impulso de corrigir o texto-autor, impulso confesso ou inconfesso, mas sempre justificado pela especificidade da língua (não dá para dizer isso assim em francês) ou a presumida expectativa do leitor (o leitor brasileiro vai estranhar isso aqui).
No meu próprio texto, um conto infantil de George Sand, “cortei” (censurei) por sugestão do grupo, e só com leve fisgada na consciência, alguns termos botânico-científicos que pesavam na história sem muito (?!) acrescentar: atendiam à expressa intenção didática da autora, nesses contos narrados às suas netas, mas perdiam sentido no texto traduzido por designarem plantas desconhecidas no Brasil. Tempos depois, essa adequação do conto oitocentista ao atual leitor mirim brasileiro ainda seria conversada com a editora, e pensada, em modo paratextual, pela designer gráfica e pelo ilustrador... cujo belo trabalho, diga-se, não deixou de “adaptar-trair” meu cenário imaginado deste conto |1|. Somos muitos os indivíduos criadores que, na vasta corrente de transmissão dos textos, reescrevem aumentando ou cortando um ponto. E todos imprimimos, no texto escrito por outro, valores estéticos, padrões estilísticos, ideias e ideologias, nossos e do nosso meio.
Adaptar, adaptamos todos. Em maior ou menor grau, de uma ou outra maneira, com mais ou menos critério. E sem dar por isso, no mais das vezes. De modo que, cá para nós: o colega que traduzia-adaptava em sã consciência por orientação do editor só estava, no fundo, radicalmente assumindo alto e bom som algo que cada um de nós, em alguma medida, cometia calado. E a julgar pela intensidade de nossas reações, a adaptação explícita cutucava um ponto sensível, quiçá essa espécie de culpa atávica que ronda um ofício fadado à traição...

Uma culpa que não assaltava La Fontaine quando, em tempos de belles infidèles, se apropriava das antigas fábulas greco-latinas e publicava em vários volumes suas Fables choisies (1668-1694), reescritas em versos medidos pelas estritas normas do neoclássico, e arrematadas com uma moralidade ao gosto da época. Eram tempos em que autoria não pressupunha originalidade e as grandes obras consistiam basicamente na recriação de clássicos consagrados. Tempos absolutistas em que uma cultura, convencida de sua própria superioridade, não hesitava em tornar suas as letras alheias, e rejeitar, no mesmo gesto, tudo que nelas houvesse de alheio; em que a língua francesa, normatizada pela Académie, firmava-se como modelo de refinamento e bon goût, assentando com sistemática eficiência uma hegemonia cultural que se estenderia por mais de dois séculos; em que a leitura era privilégio de uma elite ciosa de sua sofisticação, para a qual se “aperfeiçoavam” textos de outras terras e outras eras, necessariamente bárbaras, atrasadas. Declarava La Fontaine, no prefácio aos seus Contes et nouvelles en vers publicados em 1685 (esses “tirados” de Bocaccio, Ariosto ou Maquiavel), que a perfeição não consiste, para o poeta, na “correção ou regularidade”, mas na “bela composição dos versos”, na “bela linguagem” — e se gabava de “burilar tanto o alheio quanto o próprio” até obter “um novo conto em que o criador original custaria a reconhecer a própria obra”
|2|.
Mudam-se os tempos, mudam-se os modos de ler, escrever, traduzir.
Os modos de adaptação hoje são outros. Já não se trata de sofisticar, mas de simplificar; de atenuar, mais que realçar, as complexidades da língua. Pois levar um texto ao leitor hoje significa torná-lo acessível a uma imensa massa heterogênea, o que fatalmente induz à uniformização da escrita, se não à nivelação por baixo: a regra é trivializar para melhor difundir. Mesmo porque, em dias de comunicação instantânea e informação em excesso, para cativar um leitor impaciente e sem tempo, distraído por incessantes apelos, entontecido por um ritmo insano, há que aplainar os caminhos que o conduzem ao texto. Renuncia-se, portanto, às riquezas menos óbvias da língua, corta-se tudo que possa soar estranho, difícil, supérfluo, aparam-se arestas, abreviam-se delongas, escamoteiam-se intraduzíveis, padronizam-se estilos; reduz-se o texto ao seu aspecto enunciativo, mais atentando ao que ele diz que ao seu jeito de dizê-lo.
Persiste, porém, na surdina, a indagação de Walter Benjamin: O que ‘diz’ uma obra poética? O que comunica? Muito pouco para quem a compreende. O que lhe é essencial não é a comunicação. |3| Esse essencial, que nunca se apreende por inteiro, que só fugazmente e por partes se vislumbra, sempre diverso, em cada leitura, me queima nas mãos quando traduzo — tremo à ideia de amputá-lo inadvertidamente e roubar de outros leitores seu quinhão de poesia.
Dar-se o tempo de pressentir algo do essencial e tentar lhe abrir espaço, dar à língua o tempo de resistir, depois ceder, aos encantos do estrangeiro — requisitos do traduzir que, em época ansiosa e desatenta, me resta cultivar como atos de resistência (ou tentar cultivar sob a pressão dos prazos). Resistência contra a banalização da linguagem, a superficialização das ideias, a imbecilização do leitor; resistência a favor da alteridade, do singular, do inusitado; a favor do tom velhusco de uma escrita que abriu alas para a nossa dentro da história literária; a favor das idiossincrasias do autor, da sua imperfeição que nos lembra (em tempo!) que o texto nasceu de um indivíduo e não de combinação algorítmica.
Resistência sisífica, bem sei. Bem sabemos: toda tradução é irremediável geradora de perdas.
Mas também de ganhos. Reescrever os textos os mantém vivos no fio dos séculos, mesmo esfolados, com cicatrizes. Permite que se renovem de geração em geração, revelando a pouco e pouco insuspeitas facetas de sua essência. Mesmo que escapem, assim fazendo, por entre os dedos de seus autores.
Imagine-se o espanto de Esopo se visse suas fábulas rimadas em alexandrinos, assinadas por um forasteiro emperucado, aclamadas como clássicas de uma língua e cultura ainda desconhecidas. O forasteiro logrou, porém, alçar ao nível de obra literária um gênero antes visto como menor, didático. Sua adaptação, por indecorosa que nos soe, abriu para as remotas fábulas gregas um sucesso vasto e imediato: travestidas de clássico francês, melhor puderam se difundir mundo afora (hégémonie oblige!) e virar universais para uma impensável multidão de leitores. E mais: seguem com isso sendo reeditadas, retraduzidas em inúmeras línguas, não só as Fables de La Fontaine como as Fábulas de Esopo...
Imponderável é a trajetória dos textos, mas conduz invariavelmente ao leitor.
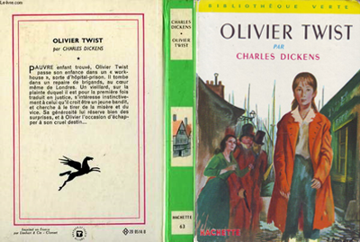
Leitora, sou eternamente grata às Bibliothèque Rose e Verte que me apresentaram Quixote, Crusoé, Münchhausen, Oliver Twist e tantos outros, inclusive os Mousquetaires, num francês cabível aos meus 8-12 anos de idade. Parece-me mais que legítimo, portanto, o propósito do editor, o projeto do tradutor, que chama os jovens a ler os clássicos num mundo que lê cada vez menos. Contanto que seja clara a proposta, e ao leitor seja dado escolher com conhecimento de causa. É bom que leia o Tempo perdido em quadrinhos quem não ousa se aventurar por seus muitos volumes, é bom que o Rei Leão emocione o planeta inteiro já de criança. Desde que não se ofereça gato por lebre, que as tiras desenhadas não venham substituir as frases longilíneas de Proust, que a Disney não pretenda ao trono de Shakespeare.
Disse que, tradutora, opto pela resistência, pelo respeito a toda estranheza e estrangeirice de um texto. Ainda assim, acho bom que existam, convivam, dialoguem, diferentes versões de uma obra. Ganha o leitor. E ganha a obra. Já que mal ou bem, por linhas tortas que seja, toda reescrita reencaminha ao original. Esopo que o diga.
NOTAS:
|1|
O carvalho falante (Le Chêne parlant) sairia pela Autêntica em janeiro de 2014, com ilustrações de Rogério Borges, projeto gráfico de Christiane Costa, revisão de Eduardo Soares e coordenação editorial de Sonia Junqueira. Uma | AMOSTRA | de algumas páginas está disponível no site da editora.
|2|
La Fontaine, Jean de. Contes et nouvelles en vers. Paris: Barbou, 1762, p. iv-vi.
| EDIÇÃO FAC-SIMILAR |.
|3|
Benjamin, Walter. “A tarefa-renúncia do tradutor”, trad. de Susana Kampff Lages. In Castelo Branco, Lucia (org.). A tarefa do tradutor - quatro traduções para o português. Trad. de Fernando Camacho, Karlheinz Barck, João Barrento e Susana Kampff Lages. Belo Horizonte: FALE / UFMG, 2008, p. 66-81. | PDF |.
© | Dorothée de Bruchard | 2017.
Direitos reservados


Jorge Bastos, Émilie Audigier, Johannes Kretschmer (organizador), Philippe Poncet, Fernando Scheibe, Liliane Mendonça;
Paula Salnot, Dorothée de Bruchard, Hubert Tézenas, Dominique Boxus, Weslin Castro, Thiago Mattos.
OBS: Dominique Nédellec também estava lá, só que atrás da câmera...

Dominique Nédellec, Philippe Poncet, Dominique Boxus, Paula Salnot.
